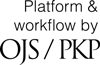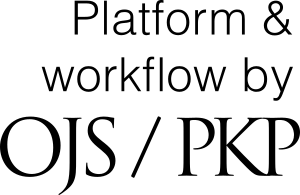Derniers numéros
I | N° 1 | 2021
I | N° 2 | 2021
II | N° 3 | 2022
II | Nº 4 | 2022
III | Nº 5 | 2023
III | Nº 6 | 2023
IV | Nº 7 | 2024
IV | Nº 8 | 2024
V | Nº 9 | 2025
> Tous les numéros
Forum : Supplément au dossier « La pandémie : hasard ou signification ? »
|
Escalas do tempo* Eric Landowski Publié en ligne le 22 décembre 2021
|
|
|
Nos tranquilos anos 1970-80, em Paris, Greimas nos contava de vez em quando, em fragmentos, como havia atravessado a Europa, sob as bombas, durante o verão de 1944, depois de ter conhecido em seu país de origem, a Lituânia, por turnos, a ocupação soviética, a invasão nazista e novamente a chegada do exército soviético. E, como conclusão ou lição, ele nos dizia que o que nos faltou para compreender a vida, a nós os “jovens do pós-guerra”, era “uma boa pequena guerra”. É claro que, por mais dramática que seja a atual pandemia, ela não tem nada que a aproxime dos indizíveis sofrimentos das duas guerras do século passado. Único aspecto talvez formalmente comparável : um efeito de estrutura na medida em que o que está acontecendo parece fazer parte, um pouco como uma guerra, de uma ordem de fenômenos de exceção suficientemente globais para afetar os aspectos os mais diversos de nossas relações ao mundo. Nessas condições, para nós as gerações que nunca tinham conhecido algo assim, e, em particular, nunca haviam visto outra coisa senão a paz (ao menos no ocidente, uma vez que os conflitos mais atrozes, exportados para outros lugares, seguiam-se sem parar), não seria a pandemia, mutatis mutandis, o equivalente a esta pequena guerra faltante, apta a nos fazer talvez perder algumas ilusões ? |
* Traduzido do francês, “Echelles du temps” (E/C, no prelo), por Ana C. de Oliveira, com revisão do autor. |
|
A julgar pelos testemunhos recolhidos pelas mídias, o que duravelmente dominou foi, em primeiro lugar, o sentimento de uma desregulação do tempo. Uma forma de indecisão ligada ao desaparecimento dos pontos de referência habituais e logo um vazio, acentuado pelo isolamento, substituiram os planos de trabalho regulados pela participação em atividades coletivas. Para alguns, talvez os mais favorecidos, instalou-se pouco a pouco uma nova rotina, vivida, em muitos casos, como mais constrangedora do que aquela de “antes”, mas que se suponha provisória, na espera — sem a menor certeza — de um retorno ao “normal”. E, da parte da população não refratária às restrições sanitárias, foi a sociabilidade mesma que, doravante mediatizada pelas telas, se transformou e desagregou. A agorafobia, próxima da misantropia, tornou-se uma forma elementar da prudência. Foi, portanto, o tempo de referência partilhado, o tempo em comum, que rapidamente se desintegrou. Em termos semióticos, passou-se assim de um pólo categórico ao seu contrário. O tecido contínuo do espaço se fragmentou em todos os níveis, tanto na escala geopolítica quanto no plano de nossas idas e vindas cotidianas. O burburinho da sociedade baseava-se na continuidade de funções produtivas devidamente programadas e na fluidez de redes de intercâmbio ao longo de circuitos familiares. E, de repente, é a distância que prevalece, as barreiras, a opacidade, o deslocamento, a suspensão. Com isso, avulta-se a ameaça, agora palpável, de uma descontinuidade pura, dramática e definitiva : a todo instante, a despeito das precauções, o acidente, a doença, a morte podem ocorrer aleatoriamente.
Aleatoriamente ? Por pura coincidência ? — Como na guerra, milhares de pessoas são mortas. Mas na guerra não se diz que é por acaso. Por trás da “má sorte”, que “quis” que um fosse alcançado e não o seu vizinho, todos sabem que há o “inimigo”. Do mesmo modo, será o virus nosso inimigo em tempos de paz ? Questão semioticamente delicada. Para o vírus, o desenvolvimento da doença que desencadeia sua penetração no corpo é uma necessidade vital, pois ele não viverá (por sua própria conta) e nem se reproduzirá (para o benefício da espécie) a não ser sob a condição de que a infecção local se confirme e que, a partir daí, por contágio, ela se propague. Ora, mesmo fortuitos do ponto de vista individual, encontros em série que constituem a condição de um processo vital para toda a espécie “adversa” podem dificilmente ser considerados como uma simples série de coincidências. Contudo, não é por isso que podemos dizer que se trate de encontros subjetivamente “desejados” e “premeditados” pelo outro, pois (a etologia o confirma), diferentemente de um soldado inimigo, um vírus não quer e nem calcula nada. |
|
|
Porém, tudo, nesses encontros entre o vírus e suas vítimas, nos dá a impressão de objetivamente estar lidando com outros tantos compromissos marcados — compromissos unilaterais, certo, como são sempre (no outro sentido) os que os homens marcam com os animais ao usar armadilhas para capturá-los1. Um bom caçador de armadilhas, mesmo na ausência de rastros, sabe, ou pelo menos “sente” (sabe “intuitivamente”) que a lebre passará por onde ele coloca suas armadilhas2. No lugar combinado, a lebre, sem saber, é esperada, ela tem compromisso. É uma emboscada. Do mesmo modo, tudo se passa como se, do alto de sua árvore, o carrapato estudado por Jacob von Uexküll “soubesse” tão bem quanto o caçador (e contrariamente à telha que, pronta a cair do teto, não sabe de nada, em qualquer sentido, do transeunte que será sua vítima) que um dia um animal de sangue quente passará por baixo do galho de sua árvore : ele tinha, por assim dizer, marcado um compromisso com o dito animal (que, evidentemente, pode muito bem ser humano) sem que este soubesse3. E em um número de vezes suficiente para assegurar ao carrapato a perpetuação de sua espécie, o mamífero que lhe convém não falhará. Em um sentido meio metafórico, seria possível dizer que, da mesma forma, o vírus “sabe” que, ao se deixar pairar em sua gota nas correntes de ar, ele acabará encontrando o nariz (não vedado) ou a boca (não coberta) de que ele necessita. O caçador, o carrapato e o vírus têm em comum o fato de serem atores ao mesmo tempo inativos e pacientes4. Mas enquanto os dois primeiros se contentam em deixar passar, imóveis, o tempo que for necessário para que a presa esperada se apresente, o vírus se deixa levar no ar ao encontro de sua vítima, sob o risco de se perder. Para viver e se multiplicar contaminando por meio de encontros no espaço, as táticas temporais, as “cronopolíticas” são, portanto, diversas. É, em parte, isso que explica que do mesmo modo que se tem armadilhas mais ou menos “inteligentes”, há também, entre os micro-organismos, e notadamente entre as variantes de uma cepa viral, predadores diversamente “competentes” (segundo uma acepção outra que na virologia, na qual, salvo engano, o adjetivo refere-se à capacidade de replicação e não à estratégia de conjunção preliminar). |
1 Cf. E. Landowski, “Pièges. De la prise de corps à la mise en ligne”, Carte Semiotiche, 4, 2016. 2 Cf. M. Detienne e J.-P. Vernant, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris, Flammarion, 1974. 3 Cf. J. von Uexküll, Milieu animal et milieu humain (1956), Paris, Payot, 2015. E. Landowski, “Etat d’urgence”, in V. Estay (éd.), Sens à l’horizon, Limoges, Lambert-Lucas, 2019. 4 Por oposiçao à familia dos ativos agendados (tipo formiga), e outros. Cf. “Etat d’urgence”, art. cit. |
|
Na sua acepção semiótica, ao (meta)termo intencionalidade corresponde um leque de modalidades muito amplo, desde o querer “consciente” e “refletido” (mais ou menos !) dos “sujeitos de razão” até a necessidade vital que guia os organimos vivos na sua maior variedade5. Neste sentido, o vírus (como as amebas, segundo o que outrora dizia Greimas) possui uma “alma”. Isso equivale a postular heuristicamente (e não ontologicamente ) que o comportamento dele é orientado por algo que, sem ser propriamente uma “motivação”, constitui, sintaticamente, o seu equivalente. A este título, a estratégia viral, embora ela apresente antes de tudo (como o conjunto das dinâmicas biológicas) regularidades características dos processos programados, pode ser descrita, sociossemioticamente, como dependendo de uma sintaxe fundada não unicamente sobre o princípio de regularidade, nem o da álea, mas também, sob certos aspectos ou de um certo ponto de vista, sobre um princípio de intencionalidade no sentido largo que se acabou de indicar, e, por conseguinte, de uma problemática da interação (e não da coincidência)6. |
5 Sobre a pertinência do conceito de intencionalidade no que diz respeito às plantas, cf. G. Grignaffini, “Appunti per una sociosemiotica del giardinaggio”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. 6 A propósito da distinção entre “interação” e “coincidência”, cf. Interações arriscadas, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2014, seção 6.3. |
|
Por isso mesmo, embora nosso atual vírus “coroado”, como todos os seus pares, não “deseja” nenhum mal a ninguém, compreende-se que ele possa ser tomado por um anti-sujeito que, em virtude do princípio vital que o anima, assume o papel de um “agressor”, de um “inimigo”. Especialmente porque, contrariamente à telha que cai do telhado e se torna homicida porque provavelmente não era inteiramente idêntica às outras amostras de sua espécie (por exemplo, é possível que ela não tivesse sido fixada tão solidamente como suas vizinhas), se o vírus infecta é porque isso constitui uma sequência capital no programa de vida comum a todos os indivíduos de sua espécie. No primeiro caso, a relação fortuita que liga pontualmente os protagonistas é uma relação singular, de indivíduo a indivíduo, enquanto no outro a conexão que se estabelece entre os vírus e sua vítima é uma ocorrência particular da relação entre dois coletivos, duas espécies. Portanto, é compreensível que se tenha recorrido à imagem da guerra com tanta frequência para falar sobre a pandemia.
Passar do sem-sentido, ligado ao que é visto como puro acaso, para um início de significação tem implicações diretas no que diz respeito à problemática semiótica da temporalidade. De um lado, há o tipo dos acidentes que podem acontecer quando se passeia na cidade a pé, sem o capacete que, ao que parece, em breve será legalmente exigido para a “nossa segurança”. Acidentes infelizes ou, às vezes, felizes, eles apenas constituem acontecimentos pontuais aleatoriamente espalhados ao longo de uma temporalidade por assim dizer neutra. Sua concatenação não faz sentido. Se há quem considere que, por se repetirem, tais acidentes podem se tornar “significativos”, argumentamos que, se parecem assim, é porque, na verdade, já se pensa implicitamente que não são mais fortuitos e que, ao contrário, de algum modo não imediatamente reconhecível, eles constituem atos motivados ou programados. Salvo esse tipo de caso, a temporalidade — o fluxo do tempo — não é uma dimensão pertinente no que diz respeito aos fenômenos aleatórios. Com efeito, embora o cálculo de probabilidade permita estabelecer regularidades estocásticas, o acaso, que por definição escapa de toda determinação, também sai fora de qualquer controle pelo tempo. Em todo e qualquer período da história, na mesa de jogo, quer se jogue por uma hora ou uma noite inteira, o ás de espadas pode se repetir cem vezes, bem como nunca se mostrar. As epidemias virais são de uma ordem inteiramente outra. Estas são processos nos quais a temporalidade constitui uma dimensão obviamente essencial — tanto quanto a espacialidade. A razão disso é que intervêm aí dinâmicas baseadas, no todo ou em parte, em relações significantes entre várias formas de necessidade vital ou de intencionalidade. O resultado é que, a partir do momento em que a doença assume certa escala, ela coloca em evidência um fragmento da história das relações entre comunidades microbiologicamente interdependentes — uma história de muita longa duração e carregada de sentido7. |
7 A temporalidade é também um parâmetro de primeira importância no que concerne a um tipo de coincidências não aleatórias (como são os “verdadeiros” acidentes), mas combinadas, planejadas, “programadas”, quer dizer onde a coordenação temporal entre subprogramas é uma necessidade primordial, e também no que concerne ao regime interacional do “ajustamento” entre os atores, que privilegia as relações sensíveis e, por esse fato, confere às variações rítmicas um papel crucial. |
|
Mas, se a presente crise dá a ler uma história imemorável das relações entre espécies, pode-se realmente dizer que se trata de um momento de exceção ? Crises comparáveis devem ter se repetido muitas vezes. No entanto, se uma exceção, mesmo repetida, pode, em uma pequena escala focalizada no mais próximo, parecer acidental, anormal, “excepcional”, vista de mais longe ela se torna um fenômeno iterativo banal, previsível, “normal”. Sabendo que os vírus apareceram bem antes de todos os ancestrais de nossos precursores e que eles sobreviverão aos últimos homo sapiens, ver o episódio atual como um acontecimento singular é apenas uma ilusão devida à escala temporal que nós adotamos. Chamemos esta escala de mesoscópica considerando que se trata daquela que adotamos quando nos colocamos como observadores e partes atuantes no meio ou no centro da totalidade espaço-temporal. Por definição, ela só permite ver as evidências mais próximas : de um lado o que provamos pessoalmente, em particular o medo da doença, ou seus sintomas, vividos, dependendo do caso, como pequenos incômodos ou como um terrível suplício ; de outro lado, o que observamos nos arredores : uma catástrofe sanitária e, gradativamente, uma calamidade econômica, política, social etc. A escala microscópica é aquela dos processos fisiológicos e patológicos, domínio da medicina e, especialmente, da biologia celular, objeto de investigação científica reservada a um número limitado de pesquisadores. E finalmente, pertencem ao nível macroscópico os determinismos ecológicos suscetíveis de explicar o surgimento da doença na história das relações entre as espécies. Virologia no nível da célula, patologia naquele do corpo individual e do corpo social, ecologia no dos coletivos vivos e de seu ambiente : essas três ordens estão, do ponto de vista espacial, em uma relação de englobamentos sucessivos, do menor ao maior. E eles também estão em uma relação de integração temporal. O micro-tempo das relações entre células e vírus possui seu próprio ritmo e seus ciclos específicos, dos quais depende o meso-tempo da doença (tanto em termos de patologia individual quanto de crise da sociedade), nível no qual ele mesmo só se torna verdadeiramente inteligível quando integrado na macro-temporalidade de uma “história natural” de duração infinitamente maior.
|
|
|
Deixaremos de lado o nível “micro” por causa de total ignorância pessoal nesta área. E no que diz respeito a muito longa duração, uma reflexão que se sustente exigiria um trabalho transdisciplinar em relação com as ciências dos ecossistemas que vai além do escopo deste panorama8. Resta o nível intermediário. Não lhe faltam peculiaridades semioticamente intrigantes. A pandemia foi inicialmente entendida, “mesoscopicamente”, como um momento de tensão passageira : alta intensidade, mas, felizmente, de curta duração... imaginava-se. Claro, foi necessário por um momento isolar, “confinar”-se, mas “em três meses”, dizia-se (talvez seis, no máximo), iríamos “como antes” passear do outro lado do mundo. Todavia, como se sabe, a crise logo se mostrou duradoura, e mesmo mais e mais, sem diminuir a dolorosa tensão ; ao contrário, a morosidade da situação só a acentuou. Forte intensidade (com pequenas variações ao longo do tempo e dependendo da região) e longa duração : eis um caso que, teoricamente, seria de exclusão aos olhos de um semioticista do tipo “tensivo”, para quem intensidade e duração evoluem quase necessariamente em proporção inversa uma da outra9. É que a semiótica tensiva leva em conta, se é que nós a compreendemos bem, somente a variação quantitativa : quanto mais alguma coisa é intensa, menos esta seria durável — e quanto mais é fraca ou relaxada, mais poderia durar. Experimentalmente, nada é menos seguro. As dores as mais fortes não são sempre, lamentavelmente, as mais passageiras. E as exaltações as mais passionais não são forçosamente as mais efêmeras. Há no pano de fundo desta visão quantitativo-tensiva — quantum de tempo que dura versus quantum de energia que se perde — uma espécie de filosofia do desgaste e do “tudo cansa, tudo passa”, que dificilmente convence. Seria a duração o único e necessário determinante de todas as mudanças de estado ? Basta o “tempo passar” para que se vá de uma euforia intensa para uma disforia intensa, ou vice-versa, passando-se, deve supor, por um estado de indiferença ? Pelo que tem de mecânico, uma tal lógica da quantidade relembra as leis da termodinâmica, mas parece se aplicar mal à dinâmica real dos “estados de alma”, tanto individuais quanto coletivos. |
8 A esse respeito, ler C. Calame, “L’homme en société et ses relations techniques avec l’environnement : ni nature, ni Gaïa”, Les Possibles, 26, 2020. 9 Sobre a “implacável relação inversa”, cf. C. Zilberberg, Elementos de semiótica tensiva, São Paulo, Ateliê Editorial, 2011, p. 68 e passim. |
|
Hoje, de qualquer forma, enquanto a “pequena guerra” ameaça tornar-se uma nova guerra de Trinta Anos (ou de Cem Anos ?... sem fim, quiçá ?), não parece que a intensidade do sofrimento moral, social e físico tenha diminuído. Uma dor ao mesmo tempo intensa e crônica é, aliás, algo clinicamente conhecido. E a (sócio)semiótica se mostrou capaz de tratar desse tipo de caso10. Talvez seja um oxímoro, mas é, de fato, isso o que vivemos : uma crise, que dura. |
10 Cf. M. Peluso, Il senso della soffrenza. Narratività e forme di vita nelle strategie di gestione del dolore, doutorado em semiótica, Scuola Superiore di Studi Umanistici, universidade de Bolonha, 2012. |
|
Outra estranheza, essa em forma de contradição. Por um lado, o vírus emerge claramente como uma potência tirânica que impõe em todos os lugares seu próprio tempo. Ao tornar as pessoas contaminadas contagiosas durante um determinado número de dias, ele as obriga a isolar-se durante o período correspondente, ou ao menos aquele que se julga necessário pelas autoridades com base nas recomendações epidemiológicas. Na busca pela cura, depende também do seu capricho o momento das operações médicas a serem tentadas ao longo do tratamento. No plano coletivo, é ele que, em função das “ondas” sucessivas de sua propagação, determina o ciclo de fechamentos e de reaberturas dos lugares públicos, entre outras coisas. E, finalmente, na falta de remédio, é ele quem fixa a duração da vida daqueles que atinge. Mas, inversamente, o vírus depende em grande parte, senão inteiramente, do tempo de suas vítimas potenciais. A esse respeito, o mais estranho é que as pessoas, ao observá-las de fora, parecem ter, na sua maioria, uma única preocupação : acelerar ao máximo o ritmo da propagação. Da parte de um pequeno número de chefes de Estado ou de governo, é uma política deliberada : agem como “mecenas” do vírus, trabalhando a favor dele, desvalorizando todas as medidas de proteção ou fazendo o possível para atrasá-las (especialmente no que diz respeito às vacinas). De acordo com a interpretação menos incriminadora possível, eles almejam atingir a médio prazo o limiar da imunidade “de rebanho”, qualquer que seja o “custo” humano11. E a população segue na mesma direção, aparentemente impulsionada por todo um conjunto de motivações que poderiam sem dúvida ser classificadas com a ajuda do modelo elaborado por Jean-Marie Floch12. A motivação “prática” comanda a reabertura urgente dos locais de trabalho, inclusive as escolas ; a motivação “utópica” ou existencial exige o direito de rezar em coro na igreja ; a motivação “crítica” e calculadora, ou seja política, chama as aglomerações em massa na rua para manifestar ; e enfim, a motivação “lúdica” convida ao reencontro de todos, a “fazer a festa” entre amigos, em família, no estádio13. Em resumo, subjetivamente, o vírus é declarado o inimigo, mas, objetivamente, nós agimos como seus adjuvantes. |
11 Cf. J.R. Batochio, criminalista e deputado no Senado brasileiro: “Não é genocídio, mas crime contra a humanidade”, O Estado de São Paulo, 30 de maio de 2021, p. 2. 12 Cf. J.-M. Floch, “La maison d’Epicure”, Identités visuelles, Paris, P.U.F., 1995, pp. 149-152. 13 A propósito das escolas, das igrejas e dos estádios enquanto lugares de co-presença perdidos, ver, in Acta Semiotica, I, 1, 2021, M. Leone, “Critique sémiotique de l’enseignement numérique”, R. Alves, “Igrejas fechadas : rezar na pandemia” e P. Vasconcelos, “Estádios vazios : o torcer em pandemia”. |
|
Um outro traço que ressalta dos testemunhos difundidos pela imprensa é que para a maioria das pessoas entrevistadas (incluídos aí alguns ministros… da saúde), o termo mesmo “pandemia”, palavra erudita mesmo que tenha se tornado de uso corrente, não evoca nada mais do que a ideia muito vaga de um mal tentacular cuja natureza lhes escapa e, até mesmo, cuja própria existência carece de provas. Se a palavra parece carregada de um poder de sugestão quase mítico suficientemente poderoso para suscitar a inquietação e, em alguns, verdadeiras angústias, a noção que ela designa fica cognitivamente confusa demais para aclarar e motivar a coletividade no seu conjunto. Isso, paradoxalmente, a despeito de uma informação pletórica e de inumeráveis figurações didáticas de seu princípio ativo, o vírus. De um lado, a imagem meio científica, meio fantasmagórica de um pequeno monstro patogêneo ; de outro lado, o nome genérico de um mal sem rosto ; e entre os dois, sem conexão clara entre esses planos, uma vida cotidiana sujeita a precariedades sem precedentes e, ao mesmo tempo, a restrições que, também para muitos, parecem arbitrárias. Nessas condições, nada, no plano do imaginário cultural partilhado, predispõe a enxergar o fenômeno em sua globalidade e sua historicidade. Em vez disto, o que está ocorrendo é visto confusamente como uma espécie de maldição atemporal e ininteligível, “caída do céu”. E no plano da experiência vivida, o que cada um prova no dia a dia não permite, tampouco, apreender o que se passa como um todo inteligível. A percepção, fragmentária, não vai além da apreensão dos efeitos pontuais induzidos pelas mudanças que o processo acarreta em todos os níveis : perda da presença do outro quando ocorre a morte, perda da proximidade com os outros, perda do emprego, perda de renda, perda da liberdade de ir e vir, de se reunir e, consequentemente, mas não menos crucial aos olhos de grande parte da população, de se divertir como bem entender. |
|
|
Em decorrência, vemos a amplitude do discurso da lamentação (contra a má sorte) e da recriminação (contra o poder público). O que é considerado por alguns como medida de prudência a médio termo, ou de salvaguarda a mais longo prazo, ao ser interpretado por outros na escala temporal de curto prazo (que anda de mãos dadas com a escala espacial do que é próximo, em outras palavras, da vista curta), aparece essencialmente como privação. Enquanto em geral lamenta-se as perdas mais dramáticas com resignação na medida em que não dependem de decisões humanas, as restrições que resultam de medidas preventivas e afetam a vida cotidiana, embora exijam por comparação apenas pequenos “sacrifícios” temporários, são denunciadas como escândalos insuportáveis e frustações inadmissíveis. “Maldito ano !”, se queixam os que, confundindo os tempos ou não admitindo a ideia de que possam ser distintos, desejariam para sempre a “normalidade” de outrora, inclusive em um presente de exceção — que dura.
Em tempo “normal”, em tempo de paz, o tempo passa sem pressa, por assim dizer descontraído, como se tivesse durado desde sempre (sem anterioridade) e para sempre (sem posterioridade) : paira-se em uma “duratividade” vivida como sem bordas, em uma espécie de eterno presente, do qual se esquece o momento originário e se tem maior dificuldade em pensar o fim. No entanto, mesmo tais períodos — nos quais a “paz perpétua” parece uma realidade desse mundo — têm um fim. Mas um fim tão pouco esperado que, quando sobrevem, seu advento toma o valor de um “acontecimento”, produzindo o efeito de uma fratura, de um acidente insensato. Em contraste com esses períodos apaziguados, sem memória nem premonição, os tempos intercalados de exceção têm uma data de nascimento memorável, aquela de um acidente inaugural : um dia a guerra foi declarada (ou o país foi invadido), um dia, uma alta autoridade declarou o estado de pandemia (ou o primeiro caso de contaminação foi anunciado). E, contrariamente, aos períodos “de cruzeiro”, vividos como se fossem imutáveis, os tempos de exceção são direcionados ao seu término final, que é visto agora como o oposto de um acidente : como uma vitória que será obtida somente por grandes esforços contra o provocador do acidente, cujo poder danoso se trata de neutralizar. O tempo de exceção pandêmica é, portanto, ele também, o de um combate, incerto, e que, ao lado da inteligência organizacional e das virtudes da resistência, mobiliza antes de tudo o gênio científico. Só este torna a liberação previsível, estatisticamente calculável, quase programada — lá, pelo menos, onde o pensamento e o conhecimento não são considerados politicamente suspeitos, como é o caso em muitos países (“emergentes” ou, também, que já “emergiram”).
E o momento da vitória, momento que vai marcar o fim da crise e prefigurar o “depois”, será aquele não de uma brusca ruptura, como foi o acidente que a desencadeou nos primeiros dias, mas, imagina-se por antecipação, aquele do retorno progressivo a um estado no qual o “normal” será essencialmente o mesmo que “antes” da pandemia.
-> o tempo suspenso : uma duratividade serena vivida como ilimitada -> “o acidente”, insensato porque de repente ele produz uma ruptura -> o tempo de exceção, tempo de combate esticado rumo seu término -> “a vitória” (ou um compromisso), final programado, -> o tempo suspenso, nova duratividade “sem limites”
Contudo, é também possível que no lugar de um retomo ao estado anterior, o “depois” que se antecipa assuma a forma de uma ultrapassagem, de uma espécie de salto para frente. Pois não são raros aqueles que, por serem bons dialéticos, visionários ou humanistas inveterados, acreditam menos na concepção cíclica do “eternal retorno” e mais na ideia de um futuro radiante, de uma sociedade que, moralmente edificada pela prova, privilegiaria doravante os belos valores de “solidariedade”, de “diálogo”, de respeito às “diversidades” de qualquer tipo etc. Isso assemelha-se um tanto às “boas resoluções” de nossa infância. Desde já, o Mal pertence ao passado. — “Nunca mais isto !” — Como se, doravante, a humanidade, melhorada pela experiência, pudesse apenas mostrar-se para sempre virtuosa. Visto sob esse prisma, os infortúnios de hoje tornam-se o preço de um aprendizado moral e a garantia da felicidade para amanhã. Portanto, o que estamos vivendo não é exatamente uma pequena guerra — é um pequeno (muito pequeno) apocalipse, condição e promessa da regeneração14. |
14 Cf. F. Galofaro, “Apocalyptic features of political discourses about the pandemic”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. |
|
Infelizmente, não se vê em lugar nenhum o menor indício político, social ou econômico que justificaria um tal devaneio místico-filantrópico. Certamente, inventar do zero uma moral consoladora imaginando belos dias no horizonte (milagres do progresso tecnológico ajudando) é uma maneira como qualquer outra de dar um sentido a um vivido difícil e de aparência ininteligível. Mas uma tal moralização vai exatamente no sentido oposto do que se teria podido esperar da provação : o fim de algumas ilusões no plano coletivo. Ao invés disso, relançando um dos temas escatológicos dos mais convencionais, a promessa de um futuro sereno e sorridente tende somente a reforçar a alienação dos espíritos. Em contrapartida, ela coaduna-se perfeitamente com o apelo ao pronto reinício do aparato de produção e com o convite a um novo desabrochar de um estilo de vida enganosamente chamado de pós-consumista15, embora se saiba que tanto um quanto o outro são ecologicamente devastadores e, portanto, aceleram a vinda das próximas calamidades sanitárias (ao mesmo tempo que são socialmente catastróficos). |
15 Ver, no presente número, o dossiê sobre esse assunto. |
|
Nessas condições, é difícil discernir o que a experiência terá trazido de positivo em termos de visões de mundo coletivamente partilhadas. Porém, mesmo assim, no nível mais limitado que interessava a Greimas na época em que se dirigia aos próximos, pode-se dizer que ele tinha razão : para nós, testemunhas implicadas e, no caso, analistas, esta pseudo guerra nos terá efetivamente feito perder pelo menos uma ilusão — aquela (bem ingênua, é verdade) de ter acreditado por um momento que a prova, tão dura para a maioria, bastaria para fazer retroceder certas formas de obscurantismo. Não, foi o contrário ! Os populistas se superaram em populismo, os terraplanistas em terraplanismo e, aproveitando da oportunidade, os governantes corruptos inauguraram combinações e manobras sem precedentes. E assim por diante. |
|
|
Eis uma lição lituana : a prova não transforma ninguém, nem os indivíduos, nem os povos, mas traz à luz “o que eles são”. Como dizia o nosso teórico do belo gesto, é na crise, momento da verdade, face ao afrontamento, que cada um revela “o que tem na barriga” !16 Então, não é muito surpreendente que no mundo inteiro, face a uma terrível hecatombe, uma parte considerável da população se tenha mostrado preocupada antes de tudo com a preservação de seus interesses a curto prazo, muitas vezes exibindo, de boa ou de má fé, um puro, simples e oportuno negacionismo a título de “justificativa”17. O cálculo político, o preconceito ideológico, o fanatismo religioso — três formas da mesma raiva suicida de crer contra todas as evidências — passam ao largo do conhecimento. Do ponto de vista das ciências sociais, esta é uma lição amarga e, para toda forma de prospectiva política, um ensinamento que não se poderá negligenciar. São Paulo, 15-31 de maio de 2021 |
16 Cf. A.J. Greimas, “O belo gesto”, in V. Abriata e E.M. Nascimento, Formas de vida : Rotina e acontecimento, Ribeirão Preto, Coruja, 2014, assim como a correspondência e os ensaios de Greimas em lituano, analisados por Ar?nas Sverdiolas em “Algirdas J. Greimas’s Egology”, Actes Sémiotiques, 122, 2019. 17 Além da imprescindível reflexão de Jean-Paul Sartre (L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943), para tudo saber, semioticamente, sobre a má fé, cf. J. Fontanille, “La mauvaise foi : une dénégation qui fait sens”, Nouveaux Actes Sémiotiques, Prépublications du séminaire, 2011. |
Referências bibliográficas Alves, Rafael, “Igrejas fechadas : rezar na pandemia”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. Batochio, José Roberto, “Não é genocídio, mas crime contra a humanidade”, O Estado de São Paulo, 30 mai 2021. Calame, Claude, “L’homme en société et ses relations techniques avec l’environnement : ni nature, ni Gaïa”, Les Possibles, 26, 2020. Detienne, Marcel et Jean-Pierre Vernant, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris, Flammarion, 1974. Floch, Jean-Marie, “La maison d’Epicure”, Identités visuelles, Paris, P.U.F., 1995. Fontanille, Jacques, “La mauvaise foi : une dénégation qui fait sens”, Nouveaux Actes Sémiotiques, Prépublications du séminaire, 2011. Galofaro, Francesco, “Apocalyptic features of political discourses about the pandemic”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. Greimas, Algirdas J. “O belo gesto”, in V. Abriata e E.M. Nascimento, Formas de vida : Rotina e acontecimento, Ribeirão Preto, Coruja, 2014. Grignaffini, Giorgio, “Appunti per una sociosemiotica del giardinaggio”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. Landowski, Eric, Interações arriscadas, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2014. — “Pièges. De la prise de corps à la mise en ligne”, Carte Semiotiche - Annali, 4, 2016. — “Etat d’urgence”, in V. Estay (éd.), Sens à l’horizon, Limoges, Lambert-Lucas, 2019. Leone, Massimo, “Critique sémiotique de l’enseignement numérique”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. Peluso, Marina, Il senso della sofferenza. Narratività e forme di vita nelle strategie di gestione del dolore, doutorado em semiótica, universidade de Bolonha, 2012. Sverdiolas, Ar?nas, “Algirdas J. Greimas’s Egology”, Actes Sémiotiques, 122, 2019. Uexküll, Jacob von, Milieu animal et milieu humain (1956), Paris, Payot, 2015. Vasconcelos, Pedro, “Estádios vazios : o torcer em pandemia”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. Zilberberg, Claude, Elementos de semiótica tensiva, São Paulo, Ateliê Editorial, 2011. |
|
* Traduzido do francês, “Echelles du temps” (E/C, no prelo), por Ana C. de Oliveira, com revisão do autor. 1 Cf. E. Landowski, “Pièges. De la prise de corps à la mise en ligne”, Carte Semiotiche, 4, 2016. 2 Cf. M. Detienne e J.-P. Vernant, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris, Flammarion, 1974. 3 Cf. J. von Uexküll, Milieu animal et milieu humain (1956), Paris, Payot, 2015. E. Landowski, “Etat d’urgence”, in V. Estay (éd.), Sens à l’horizon, Limoges, Lambert-Lucas, 2019. 4 Por oposiçao à familia dos ativos agendados (tipo formiga), e outros. Cf. “Etat d’urgence”, art. cit. 5 Sobre a pertinência do conceito de intencionalidade no que diz respeito às plantas, cf. G. Grignaffini, “Appunti per una sociosemiotica del giardinaggio”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. 6 A propósito da distinção entre “interação” e “coincidência”, cf. Interações arriscadas, São Paulo, Estação das Letras e Cores, 2014, seção 6.3. 7 A temporalidade é também um parâmetro de primeira importância no que concerne a um tipo de coincidências não aleatórias (como são os “verdadeiros” acidentes), mas combinadas, planejadas, “programadas”, quer dizer onde a coordenação temporal entre subprogramas é uma necessidade primordial, e também no que concerne ao regime interacional do “ajustamento” entre os atores, que privilegia as relações sensíveis e, por esse fato, confere às variações rítmicas um papel crucial. 8 A esse respeito, ler C. Calame, “L’homme en société et ses relations techniques avec l’environnement : ni nature, ni Gaïa”, Les Possibles, 26, 2020. 9 Sobre a “implacável relação inversa”, cf. C. Zilberberg, Elementos de semiótica tensiva, São Paulo, Ateliê Editorial, 2011, p. 68 e passim. 10 Cf. M. Peluso, Il senso della soffrenza. Narratività e forme di vita nelle strategie di gestione del dolore, doutorado em semiótica, Scuola Superiore di Studi Umanistici, universidade de Bolonha, 2012. 11 Cf. J.R. Batochio, criminalista e deputado no Senado brasileiro: “Não é genocídio, mas crime contra a humanidade”, O Estado de São Paulo, 30 de maio de 2021, p. 2. 12 Cf. J.-M. Floch, “La maison d’Epicure”, Identités visuelles, Paris, P.U.F., 1995, pp. 149-152. 13 A propósito das escolas, das igrejas e dos estádios enquanto lugares de co-presença perdidos, ver, in Acta Semiotica, I, 1, 2021, M. Leone, “Critique sémiotique de l’enseignement numérique”, R. Alves, “Igrejas fechadas : rezar na pandemia” e P. Vasconcelos, “Estádios vazios : o torcer em pandemia”. 14 Cf. F. Galofaro, “Apocalyptic features of political discourses about the pandemic”, Acta Semiotica, I, 1, 2021. 15 Ver, no presente número, o dossiê sobre esse assunto. 16 Cf. A.J. Greimas, “O belo gesto”, in V. Abriata e E.M. Nascimento, Formas de vida : Rotina e acontecimento, Ribeirão Preto, Coruja, 2014, assim como a correspondência e os ensaios de Greimas em lituano, analisados por Ar?nas Sverdiolas em “Algirdas J. Greimas’s Egology”, Actes Sémiotiques, 122, 2019. 17 Além da imprescindível reflexão de Jean-Paul Sartre (L’être et le néant, Paris, Gallimard, 1943), para tudo saber, semioticamente, sobre a má fé, cf. J. Fontanille, “La mauvaise foi : une dénégation qui fait sens”, Nouveaux Actes Sémiotiques, Prépublications du séminaire, 2011. |
|
______________ Mots clefs : acidente, acontecimento, coincidência, compromisso, duratividade, intencionalidade, motivação, temporalidade. Auteurs cités : Marcel Detienne, Jean-Marie Floch, Algirdas J. Greimas, Arunas Sverdiolas, Jacob von Uexküll, Claude Zilberberg. Plan : |
|
Pour citer ce document, choisir le format de citation : APA / ABNT / Vancouver |
|
Recebido em 15/08/2021. / Aceito em 15/11/2021. |